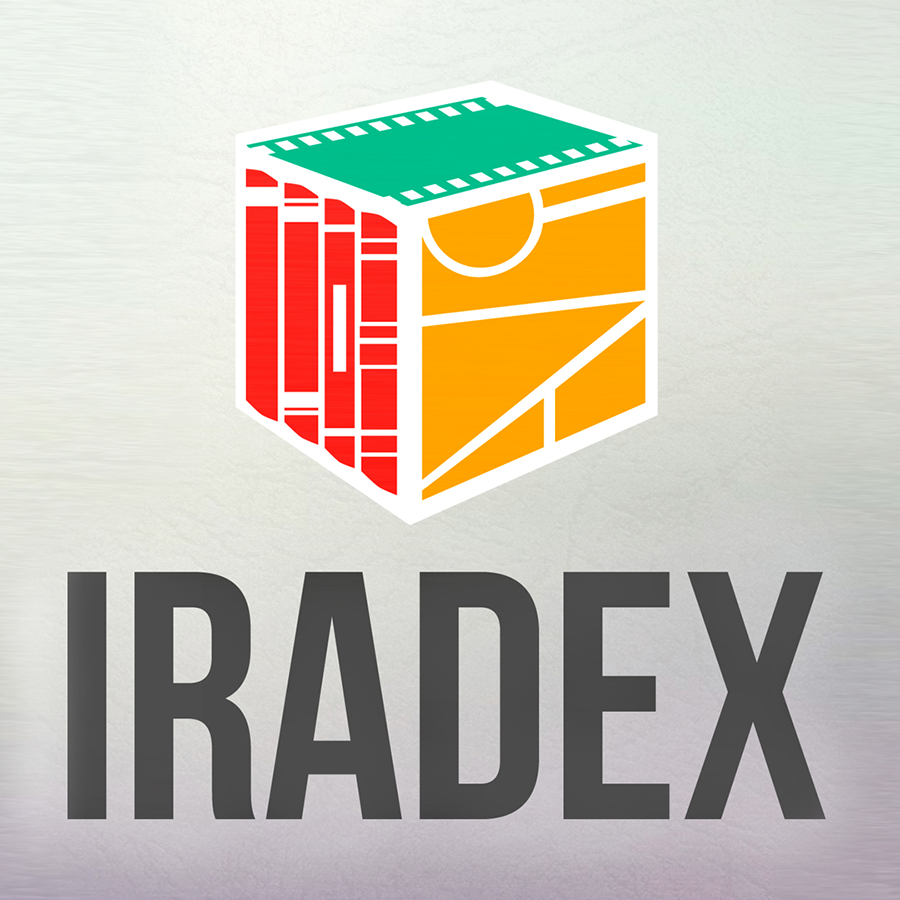Não se sabe exatamente como nasceu o dia da mentira, “comemorado” no primeiro dia de abril. Ao que parece, foi no século XVI, após a mudança do dia de ano novo no calendário juliano, que celebrava a data na chegada da primavera, em 25 de março, e que mudou para 1 de Abril por determinação do rei da França, Carlos IX, em 1563.
A partir daí começou a “polaridade” de uma boa treta e quem não aceitava a mudança chamava de “bobos de abril” os que passaram a acatar o novo “réveillon” e, de vingança, passaram a pregar peças, criar mentiras e “trolar” a quem podiam.
A boa verdade é que a humanidade desenvolveu certo vício em mentir, ludibriar e trapacear para obter algum tipo de vantagem, chamar atenção para si e dar uma enganadinha sem culpa ou piedade. Nos últimos tempos, a palavra “fake” passou a correr de boca em boca, de bar em bar e até nossos avós falam em “fake news”. O termo “fake” já tem cerca de 2 bilhões de menções no google e passamos a normatizá-lo.
Eu passei a ouvir sobre “fake” lá pelo final dos anos 80 e, desde então, a palavra está cada vez mais presente no dia a dia. Naquele tempo tinha gente que comprava whisky, bolsa, óculos, perfumes e eletrônicos falsificados vindos do Paraguai através das “sacoleiras”, era mais importante ostentar um tênis “falsifa” do que não o ter.
Na música, muito antes do Photoshop e do Pro Tools, um grande escândalo de vender “gato por lebre” foi a ascensão meteórica do duo Milli Vanilli, que chegou a ganhar um Grammy de artista revelação do ano de 1989! Diante de tamanha exposição, a farsa começou a ruir.
O criador por trás das criaturas do Milli Vanilli, Frank Farian, já tinha “ficha suja”, quando nos anos 70 criou o grupo Boney M para ser uma versão negra do Abba, e colocou nos palcos e nas capas quatro figuras que não cantavam nas canções. Foi em 1987 que ele adicionou os modelos sensuais Rob Pilatus e Fab Moran como bailarinos e “pediu” a eles para dublarem em boates as potentes canções.
Sem grana, roubando comida em supermercados e morando em uma “república”, os dois aceitaram a pantomima fake até sentirem que estavam sendo usados e seriam castigados pela opinião pública. O projeto emplacou vários hits , “Girl you know its true” entrou no top 5 em 14 países do mundo; nos EUA, “Baby don’t forget my number”, “Girl I’m gonna miss you” e “Blame it on the rain” chegaram ao número 1 das paradas.
A mentira de pernas torneadas e tranças no cabelo veio à tona e as vozes originais de Charles Shaw e Brad Howell foram reveladas. Resumo da ópera, o Grammy foi devolvido mas a Arista Records faturou € 46 milhões de euros e os pobres bonecos da capa ganharam € 4 milhões cada.
O vírus da mentira “comia solto” naqueles dias e as capas dos discos dos fenômenos C+C Music Factory e Technotronic traziam modelos que não eram as cantoras “gordinhas” donas das vozes gravadas. A “cachorrada” estava solta na era pré-Google e era comum plágio de canções, samplers roubados e clipes com artistas dublando a voz de outros passarem sem maiores problemas.
O “copia e cola” nunca foi um problema, os Monkees quiseram imitar os Beatles com rostinhos bonitos e vozes fakes. Imitar nunca foi um problema para a indústria. Era assim,”se a lolita Britney Spears está dando certo lá fora, vamos arrumar uma parecida aqui, pintamos o cabelo de uma bailarina morena e a lancem como cantora pop no Brasil”. Se existe o Me-nu-do, vamos criar o Do-mi-nó!
A geração “Clube do Mickey” dos 2000 bebeu em mamadeiras com afinadores de voz, nos estúdios e nos palcos, com a chegada dos programas Melodyne e Autotune. Cantar e dançar sem parar é coisa complicada e se temos o recurso, para que ofegar e desafinar, não é mesmo?
O público adolescente, grande responsável pelo consumo de massa, preferia gritar e desmaiar por seu ídolo do que se preocupar se estavam cantando diferente das gravações. O “me engana que eu gosto” é algo verdadeiro.
O Photoshop passou a fazer sua parte. “Tá gordo? É só afinar. Tá branco? É só bronzear. Tira esse braço e aplica outro. Pega a Adele e divide pela metade. O que importa é consumirem”, pensaram.
A evolução da cirurgia plástica, especialmente no Brasil, permitiu implantar batatas e peitorais, seios, produzir tanquinhos, inflar lábios, mamilos, bochechas, trocar nariz, colocar bunda, tudo em nome do sucesso. Botox virou chiclete.
Fake é tão gostoso quanto o cereal “Corn Flakes”, o povo engoliu e a verdade foi perdendo seu espaço. Com o advento da era digital e das redes sociais, o público começou a querer brincar de ser quem não se é. Ainda na fase do Orkut, uma foto de uma modelo da Victoria’s Secret ou do fortão da Men’s Health com um nome inventado era a oportunidade para envolver alguém ou xingar um outro sem pudor.
Há indícios claros de que o primeiro “hater” nasceu nesse ecossistema de falsos perfis. O tempo passou e a política resolveu sair dos palanques e santinhos para invadir as redes e manipular a massa em troca de votos e combater adversários.
A era Trump fez pacto com o demônio algoritmo que alastrou a praga da “fake news”, e quem diria que o Brasil não iria imitar? Se a gente copia um artista porque não vai copiar uma forma de caçar votos? Chegamos ao cúmulo de ter que criar mecanismos, empresas e ONGs para verificar a veracidade de notícias do jornalismo que sempre foram consideradas verdadeiras.
Apocalipse, pandemia ou pandemônio, a era atual começou a dar indícios de que o que tem verdade terá mais valor na próxima fase. Artistas como Billie Eilish ou Lizzo já não precisam fingir ser quem não são, ou dizer o que não pensam, e aqui está uma pista que se seguida for, pode nos levar a um outro patamar artístico e cultural.
Os filtros e apps ocuparam o lugar que já foi do Dr. Hollywood, você muda a sua cara, troca também os looks, põe seu rosto no corpo da Beyoncé e fala com a voz do seu BBB favorito. Por falar “na casa mais vigiada do Brasil”, os índices de audiência sobem à medida que os “brothers” não deixam esconder quem realmente são. Quem faz “VT” é desmascarado, quem finge ser forte aqui fora, revela sem controle a sua fragilidade emocional.
Uma geração mais orgânica e verdadeira de “influencers” ganha notoriedade, mostra-se a celulite que outro dia era coberta por Photoshop, assume-se o bonito cabelo afro que outro dia era torrado na chapinha. Nos sites de relacionamento e no Instagram mostra-se tranquilamente o nu que, até outro dia, era coisa para ser exibida na Playboy em troca de um apartamento. Ninguém está mais afim de se esconder, a rede social virou o divã do analista em tempo real, 24/7.
A pandemia derrubou muita máscara. Quem somente era visto em capas de revista e premiações, hoje passa o dia inteiro se exibindo de pijamas nos stories.
Estamos nos humanizando mais, mostrando nossas vulnerabilidades, dividindo nossos medos e incertezas e a música poderá se beneficiar disso. O impactante clipe de “Montero” do Lil Nas X é todo trabalhado no surrealismo, mas expressa a verdade dele, traz uma mensagem explícita. “Sou gay e a vida inteira me disseram que isso era coisa do demônio, então engulam o que eu tenho entalado em minha garganta há tanto tempo”, ele parece querer dizer.
Artistas da nova geração como Jão, Anavitoria e Iza, que se mostram mais naturais e menos “trucados”, parecem ter o tipo de admirador que vai durar mais que aqueles que se conquistam em troca de polêmicas e views imediatos.
Se percebermos, nossos longevos baluartes da música como o quarteto Novos Baianos se mostravam como eram “na vida real” e assim ainda são, verdadeiros, íntegros e eternos.
A real é que o fake é frágil e fragiliza quem com ele faz pacto e, em algum momento, a conta chega. Não adianta comprar seguidores das “arábias” se seu perfil não tem engajamento. O pessoal começou a entender que a mentira não compensa.
A era da verdade chegou!!!
Eu quero acreditar que essa afirmação não é uma pegadinha de primeiro de abril.
Por Horácio Brandão